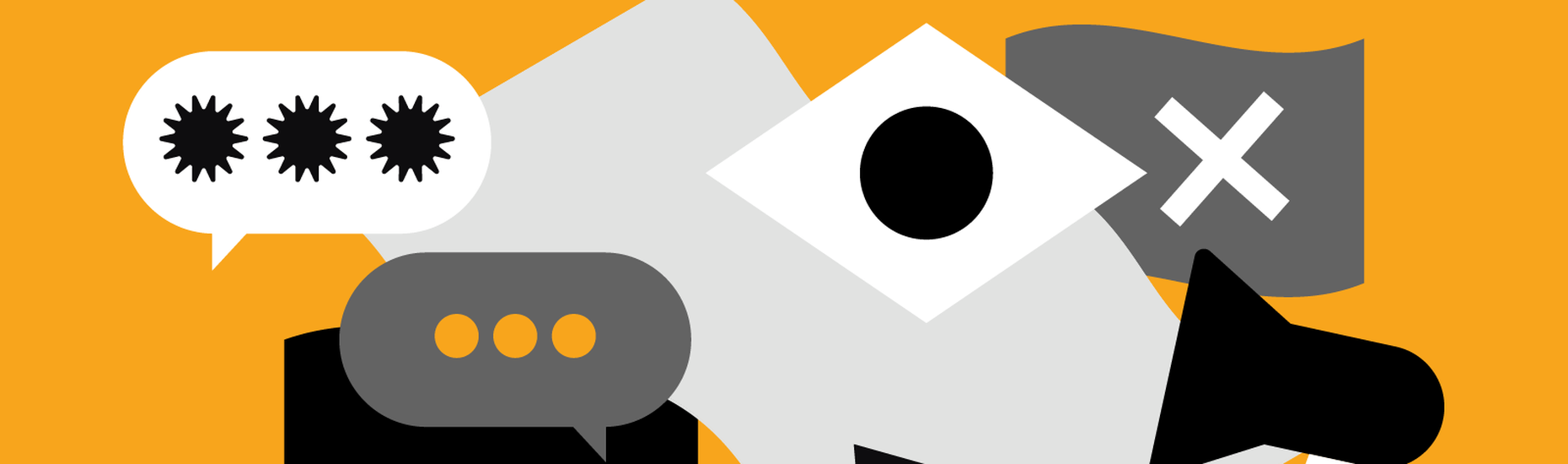Manipulação nas redes é fator novo em disputa permanente sobre o papel do Exército
Pouco antes de ser escolhido por Lula (PT) para comandar o Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva fez um discurso a subordinados que deveria ter sido sigiloso, mas foi gravado de forma clandestina e vazou.
“Prestamos continência à autoridade”, ele explicou aos praças, em 18 de janeiro de 2023. “Senão não é Exército, não é Força Armada, vira milícia, vira bando.”
O posicionamento de Paiva ressoou nos depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, tornados públicos nesta semana pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no âmbito da apuração sobre o 8 de Janeiro.
Em reunião com os comandantes das Forças Armadas, após a derrota na tentativa de reeleição, Jair Bolsonaro (PL) chegou a ser ameaçado de prisão pelo general Freire Gomes, segundo disse o tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior. Naquele momento, generais alinhados ao então presidente manipulavam as redes para atacar generais legalistas.
Um relatório da Polícia Federal revelou que militares golpistas se aliaram ao comentarista Paulo Figueiredo, da Jovem Pan, para espalhar informações falsas com o intuito de sujar a reputação de generais contrários à quebra da democracia — inclusive Paiva, o atual comandante.
No perfil oficial do Exército no Instagram, comentários com críticas aos generais “melancias” foram os que receberam mais engajamento, como mostrou levantamento do Radar Aos Fatos.
Juntas, essas informações revelam um breve capítulo da disputa interna sobre qual é o papel do Exército em relação ao poder político, objeto de debate desde a Proclamação da República.
No livro “Forças Armadas e política no Brasil” (Todavia), o historiador José Murilo de Carvalho (1939–2023) faz uma genealogia do que chama de “ideologias de intervenção” do Exército Brasileiro.
“Diante da tradição civilista do Império, os militares republicanos se viam obrigados a fornecer ao país e a si mesmos uma justificação do intervencionismo”, ele escreve.
São três principais correntes, segundo o historiador:
- A do soldado-cidadão ou da intervenção reformista, que foi “difundida por jornalistas republicanos, com a expressa finalidade de incitar os militares a intervir na política e de criar embaraços ao governo imperial”;
- A do soldado profissional, ou da não intervenção. Segundo Carvalho, “o movimento renovador dentro do Exército preocupava-se com a profissionalização militar e via como pré-requisito dessa profissionalização o afastamento dos militares da política e dos cargos públicos”;
- E a do soldado-corporação, ou da intervenção moderada, que “propunha uma intervenção controladora ou moderadora, a ser levada a efeito pela organização como tal, orientada por seu órgão de cúpula, o Estado-Maior”.
Um dos indicadores que Carvalho usa para avaliar o nível de participação política de militares com o passar do tempo é a ocupação de cargos políticos e administrativos, tanto no Legislativo como no Executivo. Nesse critério, o governo Bolsonaro superou em muito todos os anteriores, conforme levantamento do TCU (Tribunal de Contas da União).
Mais uma vez, o discurso de Paiva a seus subalternos ganha importância. “Até 2018 todos os ministros da Defesa foram civis”, ele pregou. “O militar pode ser ministro? Pode. Mas quem enquadra os militares é o poder político. Isso acontecia até nos governos militares.”
A visão externada pelo general reflete a ideologia do soldado-cidadão, ou da não intervenção, seguindo os termos de José Murilo de Carvalho — algo que fica evidente na frase que mais repercutiu quando o áudio veio à tona.
“Eu tenho o testemunho de quem participou da comissão de fiscalização [do TSE]”, ele disse. “Não aconteceu nada [de fraude]. Infelizmente, foi o resultado que, para a maioria de nós, foi indesejado, mas que aconteceu.”
Após a fala tornar-se pública, o militar reclamou que teve o posicionamento tirado de contexto, mas não recuou. Se Paiva defende que o Exército deveria respeitar as urnas — apesar de o resultado “infelizmente” ter sido negativo para a maioria dos militares —, a posição oposta é guardada pelo general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro.
Na classificação de José Murilo de Carvalho, Braga Netto se enquadraria como “soldado-corporação”, o que defende a intervenção de cúpula. No livro “O Tribunal: como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária” (Cia. das Letras), os autores Felipe Recondo e Luiz Weber narram uma conversa reveladora que tiveram com ele:
Sentado com o tronco arqueado para a frente, mãos sobre as coxas, numa posição que expunha o cacoete gestual do judoca faixa preta. Então ministro da Defesa, Braga Netto olhou num ângulo de baixo para cima e perguntou: “Vocês leram Huntington?”. Provocado pelos autores a desenvolver o motivo da questão, o general disse: “Precisamos [nós, militares] ocupar mais espaços, ter mais poder”.
A referência era ao livro O soldado e o Estado: teoria e política entre civis e militares, editado no final dos anos 1950, do cientista político americano Samuel Huntington, leitura obrigatória nas academias militares. Essa era uma interpretação subjetiva que Braga Netto fazia e que servia aos militares que naquela ocasião ocupavam pastas civis no governo Bolsonaro. Mas essa leitura não encontrava eco entre os militares da ativa.
Na realidade, a “influência militar” que aumenta com a presença de militares em cargos de natureza civil é uma falha no controle democrático sobre as Forças Armadas. Dias depois dessa pergunta do ministro, submetemos a interpretação de Braga Netto a dois integrantes do Alto-Comando do Exército: “Ele está lendo Huntington errado”, disseram.
Para esses generais, na época no serviço ativo (e essa é uma diferença importante para compreender como os integrantes das Forças Armadas atravessaram o governo Bolsonaro), os militares, como instituição, devem estar subordinados ao controle civil — como prescreve a Constituição. Ao mesmo tempo, devem maximizar seu profissionalismo — como aponta o professor João Roberto Martins Filho, em Os militares e a crise brasileira. Assim se dá o controle civil objetivo. “Essa é a equação”, disseram os generais.
Em evento na Faculdade de Direito da USP, na segunda-feira passada (11), Recondo contou que nenhum general da ativa entrevistado por ele e por Weber, durante a apuração do livro, demonstrou proximidade de ideias com os extremistas — ainda que em condição de anonimato.
No mesmo dia, o ministro Gilmar Mendes falava sobre segurança pública em entrevista ao vivo no Estúdio i, da GloboNews, quando relacionou o problema ao papel do Exército. “Por que nós chegamos a essa situação, inclusive, que envolveu o Exército, com as GLOs [operações de garantia da lei e da ordem]?”, ele questionou.
“Se nós formos olhar, metade das GLOs têm a ver com greve de polícia. É aí que os militares passam a ser extremamente utilizados e passam a dizer: ‘Já que nós temos que fazer GLO, já que vocês não têm competência para resolver esse problema, nós vamos resolvê-lo e exigimos mais’”, opinou Gilmar, ao citar o que classificou como “doutrina Villas Bôas”.
O debate sobre o papel do Exército é permanente, mas a manipulação das redes como fator é uma novidade fundamental. O comandante da hora pode ser um “soldado-cidadão”, mas generais intervencionistas ainda estão por aí, mesmo que na reserva.
Conforme o 8 de Janeiro exemplificou, a mobilização promovida pelo ódio tende a ser poderosa — e não convém ignorá-la.